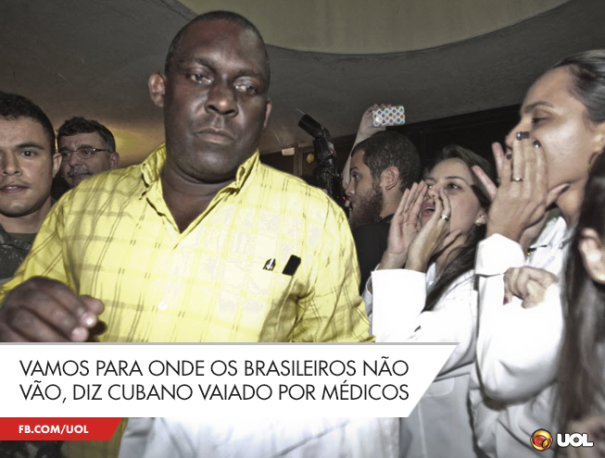Sempre questionei a afirmação de uma “forma” preestabelecida dos relacionamentos e intuições. Não é porque são pai e mãe de sangue, que o filho, automaticamente, vai amar; não é porque é religioso, que um fiel é, positivamente, santo ou, negativamente, alienado. Nem mesmo o fato de duas pessoas se casarem a transformam, de imediato, em família.
Não! Tudo é um processo, uma conquista cotidiana, “homeopática”, pois feita de pequenos passos em direção uns aos outros, para que se possa criar uma “estrutura” que nos dá uma identidade, não só individual, mas também coletiva.
É essa leitura que faço do Brasil. Ontem, os meios de comunicação anunciaram que superamos os 200 milhões de habitantes. Somos talvez o segundo maior conglomerado de diferenças étnicas e culturais do mundo, depois dos Estados Unidos. Índios nativos, afrodescendentes, imigrantes da Europa, Ásia, Oceania e dos países vizinhos da América. Mas isso basta para sermos, realmente, um povo?
Bem, a nossa história e as distâncias geográficas parecem ter promovido uma forte divisão entre os diferentes “povos” que habitam no Brasil. Mesmo estando no mesmo “grande pedaço de terra” nós não nos conhecemos. Basta conhecer um gaúcho para perceber que a sua identidade repousa no particular e não se integra com o resto do país; ou encontrar um pernambucano “da gema” para sentir o “bairrismo” que incide até nos habitantes de estados vizinhos.
Somos muitos, mas ainda estamos divididos. O que acontece no norte não interessa ao Sul. Aquilo que se vive no nordeste tem pouco valor para o centro-oeste.
Culturalmente, as diferenças dividem ainda mais. Danças, sotaques, comida, trabalho. Tudo nos divide e o que nos une, além do idioma comum, parece ser só o futebol.
Nesse processo para que sejamos um povo, emerge fundamental a tomada de consciência da nossa história, o interesse e o respeito progressivo das diferenças regionais, culturais; o mesmo caminhar em direção uns dos outros, que permite que um casal se transforme em família, um grupo de jogadores se torne um time.
“Eu tenho um sonho”: Que tenhamos o mesmo interesse e admiração pelos brasileiros de outras regiões, que manifestamos pelos estrangeiros do Norte, americanos e europeus. Assim, quem sabe, em médio prazo, sejamos não só 200 milhões de indivíduos, mas um único povo.